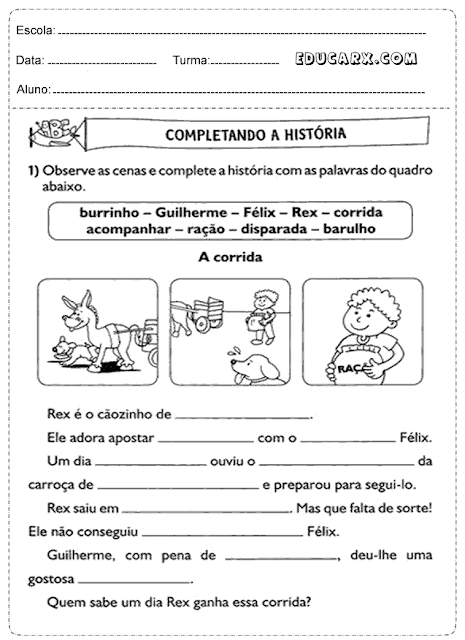Neurocientista diz ter encontrado um caminho para a cura em laboratório de 90% dos tipos de autismo - Por Paiva Junior,
Uma luz no fim do microscópio
Neurocientista diz ter encontrado um caminho para a cura em laboratório de 90% dos tipos de autismo
Por Paiva Junior,
editor-chefe da Revista Autismo
editor-chefe da Revista Autismo
 É “apenas” um caminho, uma possibilidade, para que no futuro tenhamos um medicamento para curar a maioria dos casos de autismo. Se você acha isso pouco é porque não tem um filho que esteja no espectro autista. Eu tenho.
É “apenas” um caminho, uma possibilidade, para que no futuro tenhamos um medicamento para curar a maioria dos casos de autismo. Se você acha isso pouco é porque não tem um filho que esteja no espectro autista. Eu tenho.Para os pais, a notícia é uma esperança de que um novo caminho possa surgir nessa luta. Refiro-me a um “novo caminho”, pois se juntará aos já existentes de se tratar o autismo, seus sintomas e as limitações que a síndrome impõe à pessoa. Talvez um caminho mais curto. Talvez. Ainda é cedo para afirmar.
E o “culpado” por essa nova perspectiva e um marco na área -- é a primeira vez na história que se consegue uma possibilidade real de cura para o autismo -- é o neurocientista brasileiro Alysson Muotri, que trabalha e reside em San Diego (California, EUA).
Conversei com ele, por telefone, durante 1h10min, em uma entrevista exclusiva, quando ele revelou seu próximo trabalho (ainda não publicado), com autismo clássico, em que ele afirma que 90% dos tipos de autismo têm causas genéticas e poderão ser curados num futuro (que desejamos ser próximo), assim como a Síndrome de Rett -- esta última, alvo do trabalho publicado e muito divulgado no final de 2010.
Muito simpático e extremamente solícito, Alysson falou ainda sobre a possível droga que, no futuro, poderá ser a cura definitiva para o autismo e o salto que seu estudo deu pela descoberta do japonês Yamanaka -- que fez uma célula “voltar no tempo” e reprogramá-la. O neurocientista conta também sobre as possíveis (e ainda desconhecidas) consequências dessa “cura” para a pessoa com autismo e sobre a indústria farmacêutica já estar interessada nesse medicamento que ainda nem foi desenvolvido.
A conversa foi muito esclarecedora além de descontraída, por isso decidimos publicá-la na íntegra, sem cortes, para que você leitor se sinta ali do meu lado, enquanto estava ao telefone com Alysson, no viva-voz, naquela tarde de 2 dezembro de 2010, uma quinta-feira.
ENTREVISTA
 Revista Autismo - Como foi a repercussão imediata da publicação de sua pesquisa, no Brasil e no mundo?
Revista Autismo - Como foi a repercussão imediata da publicação de sua pesquisa, no Brasil e no mundo?Alysson Muotri - A pesquisa teve um impacto mundial e eu acabei recebendo muitos e-mails de associações de autismo do mundo inteiro. Duas grandes associações de autismo nos EUA, a Simons Foundation e a Autism Speaks, deram grande destaque para a pesquisa. O próprio NIH [maior órgão de financiamento cientifico nos EUA] listou como uma das dez mais importantes pesquisas do ano de 2010. Mas do Brasil --acho que por causa [da reportagem] do Jornal Nacional a pesquisa teve um impacto grande - acabei recebendo muitos e-mails de familiares querendo saber mais sobre a pesquisa, etc., foi bem interessante. Tentei responder a todos, mas foi impossível. Peço desculpas àqueles que não consegui dar um retorno.
Por que sua escolha de trabalhar com o espectro autista? Por que você escolheu trabalhar com o autismo?
Já tinha um interesse de longa data em entender como essas doenças do desenvolvimento aconteciam. Mas tínhamos apenas dois tipos de material para trabalhar. Um tipo eram os modelos animais -- você cria um camundongo e tenta recapitular a doença, mas para doenças psiquiátricas há um problema [a mais], o camundongo não fala e a interação social dele é muito diferente da de um humano, portanto ficamos restritos a problema neurológicos, não conseguimos ir muito além disso. Outro tipo de material eram os cérebros post-mortem -- quando a família doa o cadáver para pesquisa, usamos o cérebro de um paciente que faleceu. Nem preciso dizer que este último caso é muito raro e quando o cérebro chega no laboratório está muito mal preservado, pois não é todo mundo que sabe conservar isso de uma forma correta, e o pior é que ele já está na fase final da doença, então estaremos olhando para o último estágio, o dano já aconteceu. E o que eu queria entender é como a gente percebe esses estágios iniciais, que acontecem antes da manifestação da doença em si.
Você queria exatamente o contrário do que você tinha?
Exato. Queria voltar para o estágio embrionário. Aí veio o uso das células-tronco embrionárias humanas. Só que você precisa, de alguma forma, capturar o genoma de uma criança no espectro autista dentro dessa célula embrionária. E eu, já sabendo dessa nova tecnologia desenvolvida no Japão, decidi aplicar isso para o espectro autista. E como o espectro é muito heterogêneo, decidimos escolher uma síndrome cuja base genética fosse muito bem definida, por isso escolhermos a Síndrome de Rett. E seu gene, quando sofre mutação, pode causar diferentes síndromes, dependendo do tipo de mudança. Existem pacientes com autismo clássico, pessoas com retardo mental, encefalopatia neonatal ou mesmo esquizofrenia que têm mutações nesse mesmo gene. Esse gene é considerado a Pedra de Rosetta das doenças mentais, pois é fundamental para o desenvolvimento do cérebro. Foi, portanto, uma escolha a dedo. Queríamos entender qual a função desse gene na formação neuronal. Entendendo como esse gene funciona, podemos extrapolar isso para todas as doenças do espectro, ou pelo menos uma boa parte [delas].
Aí vamos entrar na primeira polêmica do seu estudo. Aqui no Brasil, muitos pais ficaram felizes em se falar da cura do autismo pela primeira vez. Depois, se decepcionaram quando souberam que era apenas a Síndrome de Rett, uma doença que pode sair da classificação do espectro autista. Ou seja, muitos pensaram, ele não pesquisa a cura do autismo, é da Síndrome de Rett. O que quero saber é: quanto se pode dizer que reverter uma célula com Síndrome de Rett significa também que outras síndromes do espectro do autismo também possam ser revertidas?
Neste trabalho, nós não só conseguimos reverter a Síndrome de Rett através das drogas, como também conseguimos colocar o gene correto para dentro da célula. E fazendo isso conseguimos recuperar [o neurônio], o que chamamos de “terapia genética”. Consertando o defeito genético daquela célula, vimos que ela melhorou também. Portanto, o fato de provarmos -- o que nunca havia sido feito com neurônio humano -- que os defeitos sinápticos que vemos naquela célula são causados por uma deficiência genética, isso é muito poderoso. Significa que, possivelmente, todas essas formações sinápticas que aconteceram decorrentes dessa mutação genética não são permanentes e podem ser reversíveis corrigindo-se o defeito genético. Assim eu acho que podemos extrapolar para todas as síndromes do espectro autista que tenham uma característica genética. É importante ressaltar que esse tipo de controle só poderia ser feito se soubéssemos com antecedência qual o gene afetado. Daí a escolha dos pacientes Rett, com diferentes graus de autismo.
E quantos “autismos” são genéticos?
A grande maioria dos “autismos” tem raízes genéticas e são hereditários. O complicado é que não sabemos qual a forma de herança que rege as alterações genéticas implicadas com os diferentes tipos de autismo. Obviamente há uma porcentagem pequena, de aproximadamente dez por cento, que tem um fator ambiental que a gente ainda não entende, não consegue controlar. Nesses casos seria um pouco mais difícil.
Então você não chegou a trabalhar efetivamente com outro “tipo de autismo” que não seja a Síndrome de Rett?
Ainda não foi publicado, mas já estamos trabalhando sim.
Isso quer dizer que pode sair daí um resultado que aumente a abrangência desse trabalho para além da Síndrome de Rett?
Com certeza. Esperamos isso para o ano que vem [2011].
A descoberta do japonês Yamanaka [das células IPS] foi o que “destravou” as verbas e os empecilhos morais para descobertas como a sua?
Correto. Uma das razões para eu decidir ficar na Califórnia (EUA) foi devido a verbas estatais para o trabalho com células-tronco embrionárias. Mas mesmo assim isso é limitado e acaba restringindo muito a pesquisa. Com a descoberta do Yamanaka houve realmente um verdadeiro boom na Ciência, porque não só a tecnologia é fácil de ser reproduzida em laboratório, como abre essa perspectiva de se conseguir estudar esses estágios iniciais de qualquer doença. Por isso espero que em breve apareçam dados como esse que obtivemos para a Síndrome de Rett para várias outras doenças também.
Quando o Yamanaka apresentou essa técnica ele foi subestimado?
Completamente. Pois o que ele estava propondo todos achavam que seria muito difícil, que é usar uma célula que já se diferenciou e transformá-la novamente numa célula pluripotente [como uma célula-tronco embrionária]. É como uma volta no tempo. Já havia evidências de que isso seria possível, um pesquisador demonstrou isso com células de sapo. Ao colocar uma célula de sapo num ovo não fecundado era possível revertê-la ao estágio embrionário e a célula perdia as características originais. Mas isso foi em sapo, em situações experimentais bem diferentes. Fazer isso com uma célula de um mamífero seria muito mais complicado.
Eu li que na Universidade de Stanford (EUA) também fizeram uma reprogramação celular. Mas é diferente desse processo que você utilizou porque a célula não “voltaria no tempo”, apenas se transformaria em outro tipo de célula. É isso mesmo?
Isso. É o que a gente chama de conversão direta ou transdiferenciação celular. Você pega um tipo celular e o transforma em outro tipo celular.
Só para ver se entendi bem, vou usar uma analogia. É como se um homem fosse engenheiro e eu quero que ele seja médico. Então eu o faço voltar no tempo, transformar-se num bebê, ele terá novas experiências de infância e quando for fazer a faculdade eu digo a ele que vai fazer Medicina. Foi isso que o Yamanaka fez?
Exatamente (risos). É uma boa analogia.
E no caso de Stanford, o engenheiro volta apenas para o vestibular e cursa Medicina, sem voltar no tempo.
Absolutamente correto (risos). É isso aí. Você matou a charada. Na conversão direta existem algumas limitações, uma vez que você não volta no estágio de bebê, você não sabe o quão bom será esse médico, pois ele pode ter tido influências desde a infância para ser um engenheiro e não um médico. Então, no caso desses neurônios com conversão direta, talvez não representem fielmente o que seria um neurônio durante o desenvolvimento. Outro problema: quando se faz essa conversão direta, é de uma célula para uma célula, ou seja, uma célula da pele vai virar apenas um neurônio. Como queremos ter muitos neurônios para estudar, precisamos amplificar o número de neurônios (e neurônios não se dividem). As células da pele crescem até um certo ponto, mas não é infinito. Porém, uma célula-tronco pluripotente é virtualmente infinita e temos neurônios para estudar pelo resto da vida.
Então com um pedacinho de pele você pode transformar isso em neurônios na quantidade que você precisar.
É, exato.
Eu li um texto seu, em que você cita uma estatística de autismo nos EUA de 1 para 105. E a que conhecíamos era de 1 para 110. De onde veio esse número?
Acabou de ser divulgado no Congresso de Neurociência da Sociedade Americana, na semana passada. Numa sessão de autismo os médicos falaram que depois de alguns ajustes ou correções nas estatísticas chegaram nesse número que seria mais fiel, de 1 para 105. Existem diversos trabalhos com metodologias diferentes, daí a discrepância entre os números corretos. De qualquer forma, a mensagem é clara, 1% é uma incidência muito alta.
Você me disse que curar a Síndrome de Rett abre caminho para curar os outros 90% de doenças do espectro do autismo, excetuando-se apenas os 10% com causas ambientais. Isso significa que você derrubou o mito na Neurologia de que o autismo é incurável? Já se pode dizer isso?
Um pesquisador já havia corrigido isso [os sintomas de Rett] num modelo animal. E ele disse que, se conseguimos corrigir num animal, poderíamos conseguir num humano. Mas as pessoas ficaram descrentes, porque o neurônio e o cérebro humanos são muito mais complexos. Então consertar num camundongo não seria o mesmo que consertar humanos. É justo dizer que já havia um indício de que era possível a reversão. E foi isso que me estimulou a tentar fazer essa correção nos neurônios humanos. Para alguns colegas, conseguir um modelo celular que reproduz o comportamento de um neurônio desde o começo do desenvolvimento já seria bom - poderíamos ter parado por aí. Mas nós dissemos “Não. Nós vamos tentar recuperá-lo, fazê-lo voltar ao normal”. Fazer isso num neurônio humano acho que realmente foi uma das grandes sacadas e, a meu ver, é o principal ponto deste trabalho.
Podemos dizer que será possível fazer essa “cura” numa pessoa?
Extrapolar de uma “cura” de uma célula em laboratório para a cura num cérebro de uma criança é realmente um grande salto. Mas o que eu gosto de dizer é que, corrigindo-se um neurônio de cada vez não é impossível de corrigir o cérebro todo. Então, eu me agarro nessa esperança.
Hoje ainda não dá para dizer que o autismo é curável, pois ainda não se fez isso numa pessoa. Mas também hoje não é mais possível dizer que o autismo é incurável. Estamos numa fase de transição e não dizer que é incurável é um bom começo, não acha?
Exatamente. Muito boa sacada essa sua. Eu não tinha pensado dessa forma ainda.
Quais os outros tipos de doenças que podem se beneficiar desse seu estudo, além de Rett e dos outros 90% de “autismos”?
Eu aposto na esquizofrenia ou outras doenças psiquiátricas. O que percebemos, é que quando consertamos o número de sinapses, acaba-se consertando as redes de comunicação formadas pelos neurônios. Meu ponto de vista é ainda mais abrangente: de que toda doença genética, cujo problema esteja na sinapse, vamos conseguir corrigir em algum momento.
Sei que ainda há um longo caminho para que as drogas utilizadas evoluam e possam ser usadas em humanos, mas você acredita que ela poderá ser usada em pessoas de qualquer idade, inclusive jovens e adultos?
Essa é a ideia. É difícil concluir isso, mas colhemos amostras de pele [para serem “transformadas” em neurônios] de pessoas com diferentes idades. Mas não sabemos se esses neurônios se comportam exatamente como os neurônios embrionários ou se ainda carregam alguma “memória”. Isso ainda não está claro. Logo é possível que [o medicamento] seja para qualquer idade.
E você vê alguma possibilidade de o cérebro “piorar” com essa “cura” dos neurônios autistas? O que poderia acontecer com um adolescente que fosse “curado”, poderia ter algum déficit, regredir ou perder alguma habilidade e ter que aprender novamente?
Essa é uma questão fascinante, da qual eu não tenho a menor ideia. Pode ser que quando o medicamento for “rearranjar” essas sinapses, vá eliminar algumas que já foram feitas. Então [essa pessoa] pode perder memória, perder alguma habilidade, como se fosse mesmo um “reset” no cérebro. É isso que eu imagino que deva acontecer. Se todas as características serão preservadas ainda não sei. Se vai causar algum problema, algum efeito colateral, também é possível, mas acho que isso está muito mais relacionado com a dose do medicamento que a pessoa vai tomar.
Então podemos dizer que tanto a pessoa pode virar um bebê e ter que aprender tudo de novo, porém de forma natural, sem os déficits de desenvolvimento do autismo, como também a pessoa pode simplesmente “acordar” do autismo, sem perder nenhuma habilidade já conquistada?
É. Uma mãe de um garoto com Síndrome de Asperger, muito criativo, me relatou sobre essa questão, dizendo que ele tem muitas habilidades que ela não gostaria que ele perdesse. Essa será uma questão ética interessante para os pais, uma vez que se soubesse que o garoto perderia as habilidades, você faria ou não o tratamento? Você estaria alterando a essência e individualidade daquela pessoa. São questões fascinantes.
Com essa sua técnica, poderíamos ter um exame para diagnosticar o autismo precocemente, com um biomarcador seguro, talvez até logo após o nascimento por você ter visto que a morfologia dos neurônios “autistas” são diferentes, além da diferença no número de sinapses. Seria possível hoje?
Isso para mim foi a prova de conceito. O protocolo correto seria fazer o protocolo com umas cem crianças recém-nascidas,extraindo um pedaço de pele delas, fazendo a diferenciação neuronal e contando o número de sinapses. Aí acompanharíamos essas crianças por dois ou três anos até descobrir se aquelas que têm o número reduzido [de sinapses] tiveram algum problema mental. Esse seria o experimento correto, o qual não fizemos. Então acredito que sim, que isso possa se transformar num método de diagnóstico. O que mais emperra mesmo é o custo disso tudo. Para fazer isso é preciso muito dinheiro por pessoa, além de ser um processo muito lento e trabalhoso.
Portanto hoje esse exame seria complexo e caro?
Exatamente, mas é uma possibilidade.
O mito da “mãe-geladeira” já estava morto. Agora você o enterrou de vez?
Eu espero que sim. Você fala que já estava morto, mas tem alguns pais que vêm falar comigo e ainda revelam esse tipo de atitude, de que as outras pessoas sugerem que o problema foi causado por eles, ou mesmo a família que acha que os pais foram descuidados com a criança em algum momento. Eu não sei até que ponto isso estava realmente morto. Mas de qualquer forma espero que eu ajude a enterrá-lo de vez!
Aqui no Brasill, você acha que teria chegado aos mesmos resultados?
No Brasil ainda é preciso de muito investimento nessa área. Temos essa colaboração com a equipe da USP, através da Karina Oliveira e da Patrícia Beltrão Braga, e com isso estamos tentando transferir essa tecnologia para o Brasil.
Quanto tempo levou todo o trabalho, da ideia aos resultados? E quantas pessoas tem sua equipe.
De três a quatro anos, focados somente nisso. Nossa equipe hoje tem 12 pessoas. Mas optamos por trabalhar com outras pessoas que entendiam melhor de algumas técnicas, para que o trabalho andasse mais rápido e não ficássemos reinventando a roda. Portanto a equipe chegou a ter 20 pessoas.
Qual foi o ápice da sua descoberta? Quando você disse “Eureka, descobri”!
Fizemos a diferenciação dos neurônios, entre o grupo controle e o grupo afetado [com autismo] e começamos a olhar no microscópio para ver se entre eles havia alguma coisa diferente. E ao olhar só no microscópio, não se percebe facilmente nenhuma diferença, são basicamente iguais. E a sinapse é invisível, você tem que criar uma forma de fazer com que ela fique fluorescente para conseguir visualizar num microscópio de fluorescência. Mas algo que eu já tinha notado era o tamanho reduzido dos neurônios. Apesar de [a diferença] ser de 10% na redução no diâmetro, considerando uma estrutura tridimensional (volume ao cubo), é uma diferença grande. Aí eu mostrei a uma pessoa [da equipe], que não visualizou diferença alguma no início. Eu disse “compare os tamanhos”. E nada. E eles não sabiam qual era o grupo controle e qual o afetado. Mostrei pra outra pessoa, que disse que o tamanho de um dos grupos parecia ser um pouco menor. E outro também, e mais outro. Aí comecei a acreditar. Medimos centenas de neurônios e vimos que realmente havia diferença. Por mais simples que seja, essa foi a primeira diferença. E eu falei: “Nossa, acho que estamos recapitulando o que está acontecendo [no cérebro das pessoas com Síndrome de Rett]. E já havia a análise de cérebro post-mortem apontando para essa possibilidade. Partimos para investigar outras coisas. Mas acho que esse foi o melhor momento. Você conseguir ver no microscópio e falar para os colegas, que não estavam sabendo nada do que estava acontecendo, e eles confirmarem. Acho que foi meu momento de “eureka”.
Fazendo um trocadilho, foi esse o momento em que você viu uma luz no fim do microscópio?
Exatamente. (risos)
E qual é o próximo passo da pesquisa?
Eu tenho uma postura de não falar de coisas ainda não publicadas, mas o que eu posso adiantar para você é que estamos trabalhando com pessoas que foram diagnosticadas com autismo clássico. E o que estamos vendo é que, apesar da heterogeneidade que observamos nesses neurônios, existem alguns deles que seguem vias parecidas com a Síndrome de Rett, por exemplo.
O que estamos tentando entender é se não descobrimos vias moleculares comuns a um determinado grupo de crianças autistas. E esse tipo de análise ajuda a eliminar um pouco dessa heterogeneidade, permitindo buscar drogas que sejam mais específicas para determinadas situações, determinados grupos.
Então você pode conseguir encontrar uma droga específica para Sindrome de Rett e outra droga específica para autismo clássico, por exemplo?
Isso é uma possibilidade, exatamente. A alternativa é que drogas que funcionem pra síndrome de Rett, também atuem no autismo clássico.
E você já conseguiu ver diferenças morfológicas nos neurônios com autismo clássico também?
Com certeza, temos dados preliminares apontando nessa direção.
Então isso demitifica essa confusão de que sua experiência é com Síndrome de Rett e que foi usado o nome de autismo equivocadamente por ser a síndrome mais conhecida?
Exatamente, acho que não é por aí. Creio que essa discussão [de Síndrome de Rett estar ou não dentro do espectro autista] é bem mais restrita à parte clínica. Médicos que gostam de categorizar cada doença e colocar numa gavetinha: isso aqui é Síndrome de Rett, isso aqui é autismo... Só para você ter uma ideia, aqui há um casal, cujos filhos são os pacientes. A filha foi diagnosticada com Síndrome de Rett e o menino tem autismo clássico. Decidimos sequenciar o gene, para ver qual é a mutação, pois já sabíamos que devia ser o gene da Síndrome de Rett e [quando analisamos] também pegamos a mutação [do mesmo gene] no menino. Ou seja, por alguma razão, os dois têm a mesma mutação [no mesmo gene], mas em um está causando Síndrome de Rett e no outro, autismo clássico. Nos meninos a Síndrome de Rett é muito dramática, a criança quase não sobrevive. E esse menino está lá, somente com sintomas de autismo, nada de sintomas característicos de Rett. Isso é intrigante e revelador.
Então podem ser doenças com origens iguais, porém o cérebro reage de maneira diferente em cada um?
Exatamente. E isso na academia, no ambiente científico, interpreta–se normalmente. É o mesmo gene causando duas doenças diferentes. Ou se comportando de forma diferente em dois organismos. E tudo bem. Mas quando você vai para a parte clínica, um tem Síndrome de Rett e o outro tem autismo. Facilita o diagnóstico, mas não elimina o fato de que pessoas com genéticas distintas se comportam de maneira diferente na presença de uma mesma mutação. É hora de perdermos o preconceito clínico e integrarmos a genética aos estudos comportamentais. As associações de pacientes nos EUA já se conscientizaram que tratamentos ou a eventual “cura” do autismo virão através das síndromes mais raras, como Rett. Por isso mesmo, elas abraçam a causa dessas síndromes também, e financiam a pesquisa nessa direção. Nisso, parece que os EUA estão com a mente mais aberta, são mais receptivos a esse ponto de vista.
Posso dizer que foram injustos os que julgaram o uso da palavra autismo como uma estratégia sua para ganhar espaço na mídia?
Sim, não faz o menor sentido. Pra que eu gostaria de ter espaço na mídia brasileira? Nem vivo no Brasil, não tenho verba de lá. São doenças complexas e, independente da experiência clínica que se tem, são observadas e classificadas de formas diferentes. No resto do mundo essa discussão está restrita a alguns médicos. O autismo é um espectro de doenças, não uma doença única. A síndrome de Rett é parte desse espectro e vai ajudar a entender muitas outras doenças.
Por ter tido essa facilidade e trabalhado primeiro com Rett, você acredita que a cura para essa doença virá primeiro ou você acredita que será uma cura só para a maioria do espectro autista?
Uma das drogas que testamos em Rett já havia sido testada em camundongos que simulam a síndrome. E havia causado uma melhora no animal, por isso usamos essa droga, o IGF-1. E mesmo no camundongo, sabíamos que a droga não estava cruzando a barreira hematoencefálica de forma eficiente, que permite a entrada da molécula no cérebro, penetrando muito pouco. Após a publicação do nosso trabalho, várias indústrias farmacêuticas me procuraram, querendo modificar essa molécula, de uma forma que ela penetre melhor no cérebro. A droga já está sendo testada em um ensaio clínico nos EUA para síndrome de Rett (http://clinicaltrialsfeeds.org/clinical-trials/show/NCT01253317).
E no caso do Autismo Clássico?
O ensaio clínico para Rett, se andar conforme o esperado, vai com certeza ser estendido para outras doenças do desenvolvimento, inclusive outras síndromes do espectro autista. No caso do autismo clássico, eu preferiria achar vias comuns de alguns subgrupos, porque assim poderíamos pensar em quais drogas seriam as mais apropriadas. Enquanto não descobrirmos essas vias comuns, fica difícil prever e cada caso pode ser um caso distinto. Aliando esse tipo de abordagem celular com o sequenciamento do genoma do indivíduo, podemos correlacionar as anormalidades neuronais com variações genéticas, buscando drogas que atuem naquele caso. É a medicina personalizada e cada caso vai ser um caso.
Você disse numa entrevista que vai continuar a pesquisa de forma independente. O que isso significa exatamente?
Eu já consegui uma verba do governo da Califórnia, que logicamente nem se compara a uma verba que viria de uma indústria farmacêutica, mas será usada para tentar otimizar esse procedimentos. Temos 20 pessoas envolvidas, e levamos 3 a 4 anos para todo o trabalho [com Rett], testando. E apenas focamos duas drogas. O que queremos fazer agora é ampliar para milhares de drogas. Isso tem que ser feito numa escala maior, o que não é muito fácil. A indústria muitas vezes não tem tanto interesse enquanto o processo não estiver otimizado. Tentarei fazer isso dentro da universidade, onde talvez leve mais tempo, porém fico independente.
Neste caso a patente fica com você, no caso da descoberta da droga da cura?
A patente fica com a universidade, que pode licenciá-la a indústrias que tenham interesse.
Com o caminho que você encontrou para uma possível cura, você acredita que aumentarão os investimentos em pesquisas relacionadas ao autismo? Haverá uma explosão de investimentos?
Só pela quantidade de e-mails de pesquisadores do mundo todo que já recebi, sei que todos vão começar a estabelecer um sistema parecido com o que utilizei. E o fato de termos feito isso com Síndrome de Rett e agora com Autismo Clássico vai mostrar que o caminho está aberto. Sei de pelo menos outros dez grupos que já se entusiasmaram e vão começar a fazer um trabalho parecido. É o começo de uma revolução. Aí podem dizer “Ah, mas agora você vai sofrer uma grande competição” e eu respondo “Não me importo, competição é algo bom, pois são mais pessoas pensando no problema”. E mais pessoas vão começar a pedir mais dinheiro para as agências de fomento para investir em autismo. É um ciclo: mais pesquisadores, mais exigência para fundos, e quem sabe, a cura vem mais rápido.
Qual é o interesse da indústria farmacêutica em uma droga para o autismo?
Com essas estatísticas impressionantes, com quase 1% das crianças sendo diagnosticadas [no espectro autista], entendo que o interesse seja grande. Ou por uma droga que cure, ou uma droga de uso contínuo que traga melhorias.
Como você imagina que seria esse medicamento? Algo simples de uso oral?
Possivelmente uma pílula, por via oral.
Qual é sua previsão para quando teremos essa droga?
É prematuro dizer. Se tiver que dar uma estimativa nada precisa, levaremos 5 anos para achar as vias comuns de pacientes com autismo e mais 5 anos para desenvolver essa droga em escala industrial. E mais alguns anos em ensaios clínicos para mostrar que não há efeitos colaterais e testar sua eficácia. Podemos falar em 10 anos. O que eu gosto de imaginar também, de forma cautelosa, lógico, é que a ciência muitas vezes dá saltos. Você não espera, mas amanhã se pode descobrir algo novo que possa acelerar esse processo absurdamente. A própria descoberta do Yamanaka (células IPS) acelerou muito a pesquisa. Eu achava que meu trabalho levaria pelo menos 10 anos até conseguir encontrar uma forma de capturar o genoma de uma criança autista numa célula pluripotente. E esse cara, ao desenvolver essa técnica, permitiu que eu fizesse o trabalho em apenas três anos. A ciência dá saltos. Eu não perderia as esperanças.
O Yamanaka foi uma espécie de “catalisador” no seu trabalho?
Exatamente. Penso que ele vai levar um Prêmio Nobel em algum momento.
Há mais algum outro trabalho seu de impacto, fora dessa área, a ser publicado?
Por enquanto meu foco está só nisso, que já dá bastante trabalho (risos). Agora estamos voltados a esses pacientes com autismo clássico e procurando vias moleculares comuns em alguns casos. Nosso trabalho com a Karina [da equipe da USP] está andando muito bem e acho que será o próximo trabalho com impacto a ser publicado.
Você tem previsão de quando será publicado seu trabalho específico com autismo clássico?
Em algum momento do ano que vem [2011 - esta entrevista foi feita em dezembro de 2010], mas a publicação cientifica pode ser demorada. Outros cientistas que julgam nosso trabalho podem pedir controles extras, outros experimentos, etc., atrasando a publicação. É chato às vezes, mas faz parte da ciência. É esse rigor científico que dá credibilidade ao pesquisador.
Você sabe de algum outro trabalho de impacto na área do autismo?
Diversas pessoas me escreveram, querendo os protocolos, como fazemos a diferenciação, para aplicar a outras doenças. Desde Mal de Alzheimer a [Mal de] Parkinson. Na academia é difícil saber, mas aqui na Universidade da Califórnia, [as pesquisas] com as quais eu colaboro, estão bem interessadas em Alzheimer, e estou fazendo essa análise de sinapses também, pois existem evidências fortes apontando pra isso. Esquizofrenia também sei que há alguns grupos que já me escreveram. Se eu tivesse que apostar, diria que essas três doenças vão aparecer com novidades no próximo ano [2011].
E grupos de autismo?
Não sei de nenhum grupo em andamento. Sei de muitos que irão começar.
Sabe-se que o uso de vitamina B6 traz uma melhora aos neurotransmissores. Mas a ciência ainda não conseguiu explicar o porquê. Você vê alguma relação disso com seu trabalho?
De cabeça, eu não saberia fazer nenhuma correlação. Mas, quando se coloca vitaminas nas estruturas neuronais, em geral, você melhora o desempenho dos neurônios. Não sabemos exatamente o porquê. Há alguns experimentos com vitamina A, que estimulam a maturação neuronal. Porém, todo o mecanismo por trás disso ainda é um enigma.
Como você tem lidado com essa fama mundial que explodiu na sua vida?
Tento viver um dia a cada dia e não me empolgar muito com isso. Sei, primeiro, que estamos longe de fazer algo de impacto. Minha busca é realmente por melhorar o paciente. E não consegui chegar nisso ainda. Sei que eu trouxe esperança para algumas famílias e para mim também. Agora sabemos que é possível consertar sinapses em neurônios humanos e é por aí que eu vou. E não acho que estou mundialmente famoso, apenas houve um impacto maior no Brasil, por eu ser brasileiro.
Mas na área do autismo você ficou sim, mundialmente famoso.
Sim, mas ainda há muitos críticos me dizendo “Ah, você corrigindo um neurônio em cultura, numa plaquinha, não é nada. Como é que você vai extrapolar isso para o cérebro?”. E é verdade! Mas consertando um neurônio, consertam-se todos. Não tínhamos isso antes.
O Yamanaka também sofreu esse descrédito quando apresentou seu trabalho de células IPS, não foi?
Exatamente. Aliás, ele é um que adorou esse meu trabalho. E me disse que jamais imaginou que os frutos da sua descoberta estariam aparecendo tão rápido.
Qual havia sido sua descoberta mais importante antes desta?
Foi outra coisa maluca: os genes saltadores que temos no cérebro, que são “pedaços” de DNA que ficam se movendo no genoma. Algo que já sabíamos que acontecia, mas que ninguém havia mostrado no sistema nervoso. E, em algumas situações, como a Síndrome de Rett, acontece muito mais, talvez contribuindo de uma forma completamente inesperada para os sintomas da doença.
Você tem a exata noção do quão grande pode se tornar essa sua descoberta?
Acho que não (risos). Penso que poderá se tornar grande se acabarmos descobrindo melhores drogas e elas entrarem para ensaios clínicos.
Mas essa ficha caiu em você?
Não. Eu continuo indo para o microscópio, olhando para os neurônios e só penso nisso (risos).
Agora tenho as seis próximas questões mais técnicas, enviadas por Murilo Queiroz, um pai de um garoto autista, que tem um bom conhecimento sobre ciência. Vamos a elas:
Esses genes saltadores são mais ativos em Síndrome de Rett. Faz sentido dizer que isso vai além da genética tradicional, levantando questões sobre perfis de expressão genética, redes regulatórias e especialmente a epigenética?
Lógico. É por aí mesmo que estamos indo. São exatamente essas implicações, uma vez que esses genes saltadores, os transpósons, ficam se movendo e, cada vez que eles se inserem num genoma, o fazem perto de um gene e acabam afetando a atividade daquele gene. E fazendo isso em cada neurônio, pode ser que desregulem as redes do sistema. Essa é a nossa teoria.
A hipótese do autismo causado pela epigenética tem um grande apelo junto ao público leigo e explicaria três fatores: o aumento no número de diagnósticos nas últimas décadas; a dificuldade de se encontrar modificações genéticas do autismo apesar do caráter hereditário ser muito claro; e como o estresse ambiental poderia desencadear o autismo mesmo sem histórico familiar. Essa linha de raciocínio é a mesma das pesquisas recentes que associam TDAH a modificações epigenéticas oriundas da exposição a pesticidas organofosforados. O que você acha dessa hipótese?
Acho essa ideia das modificações epigenéticas é válida e gosto bastante. E isso está no meu radar. Um dos passos de agora é olhar para essas modificações epigenéticas nesses neurônios que temos, e vermos se conseguimos descobrir se há algo em comum aí. Portanto não descarto isso de forma alguma.
Institutos de pesquisas chineses oferecem hoje supostos tratamentos para autismo baseados no uso de células tronco e transplante de medula óssea. Você acha que a China está mesmo muito à frente ou isso está mais para charlatanismo?
Está mais para charlatanismo. Não que o ocidente ignore a China, mas tentaram reproduzir alguns trabalhos publicados e nunca conseguiram. E nessas clínicas menos rigorosas, nunca usam controles, nunca publicam os resultados. E isso tem de ser feito de forma controlada, verificando que realmente as terapias estariam tendo algum efeito. Porém, o mais importante, é a falta de uma motivação, uma base científica. Isso não é mostrado. Parece que são dados “jogados”. Como um transplante de medula óssea vai melhorar o autismo? Eu não consigo entender isso. Então, sem essa base, fica difícil formular hipóteses para testar sua teoria.
Qual você acha que será o cenário após uma possível cura? O paciente terá de aprender tudo de novo, como no livro “The Speed of Dark”, de Elizabeth Moon (vencedora do prêmio Nebula de 2003), em que o personagem se torna, após a cura do autismo com tratamento genético, uma pessoa completamente diferente, inclusive com outros gostos e interesses? Esse parece um cenário plausível para daqui a 20 ou 30 anos?
Não faço ideia.
Você usou no seu experimento com Rett as drogas IGF-1 e a gentamicina, que são tóxicas e não passam a barreira hematoencefálica. Ainda assim, muitos o citaram para defender que modificações ambientais simples, como a dieta sem glúten e sem caseína, ou suplementos alimentares, reduziriam os sintomas do autismo. Comparadas a sofisticadas terapias genéticas, seria o côncavo e o convexo. Qual é o caminho, o laboratório ou essas simples abordagens “naturalistas”.
Acho as duas abordagens válidas. Uma vez que temos o sistema de neurônios em cultura, vamos testar uma série de coisas. Podemos colocar água suja lá e ver se eles melhoram. Se melhorarem, talvez essa seja uma terapia. Você não precisa necessariamente saber o que a droga está fazendo. Para você fazer isso em escala industrial, passar por órgãos reguladores, como o FDA (órgão estadunidense), e virar uma terapia no mercado é preciso ter um mecanismo de ação. Ou seja, é preciso explicar como a sua droga está melhorando o neurônio. Então, quando colocam no mercado suplementos alimentares, se você não consegue explicar, mesmo que tenha uma melhoria, as agências que regulamentam vão implicar com você. Se você não sabe o que está acontecendo como você vai seguir com isso? Aí há essa ideia de se fazer os preclinical trials (testes pré-clínicos), que seria testar os efeitos colaterais em pessoas saudáveis, em cobaias. Então, se aquela água suja funcionou e não causou nenhum efeito colateral em nenhuma pessoa, tudo bem e você pode até seguir em frente com isso. É o caso da Aspirina, que até hoje não sabemos como funciona realmente, mas está aí no mercado. Se alguém descobrisse a Aspirina hoje, ela possivelmente não iria para o mercado, pois não há um mecanismo de ação elucidado. A vantagem de utilizar drogas específicas é que você sabe exatamente onde está o problema e o que está acontecendo. É mais rigoroso, é mais lento, mas é mais seguro.
O tratamento de autismo em todo o mundo, inclusive no Brasil, é muito conflitante. Defensores da medicina baseada em evidências dizem que a única coisa a se fazer é um tratamento estritamente comportamental (ABA, terapia ocupacional, musicoterapia) e fonoterapia. De outro lado, há defensores de inúmeros tratamentos chamados “alternativos”, alguns até mesmo sem estudos conclusivos que demonstrem sua eficácia. Pelo seu conhecimento a respeito dos mecanismos relacionados ao espectro autista, qual sua opinião sobre essa discussão?
Tenho pouquíssima experiência nessa área. O que sei vem de conversas com pais e pacientes. A meu ver, as respostas são muito individuais. O que funciona muito bem para um, não funciona tão bem para outro. Isso só revela quão heterogêneos são os pacientes, e quão complexo é o cérebro humano, que não responde de forma idêntica aos mesmos estímulos. Agora, se eu estivesse na sua situação, e meu filho estivesse no espectro autista, eu acho que tentaria também.
Me fale mais sobre você. Qual é sua idade?
Tenho 36 anos, sou de 22 maio de 1974.
Você é biólogo molecular ou é neurocientista?
Comecei minha carreira como biólogo molecular, fui estudar câncer e depois entrei de cabeça nas células-tronco para estudar o desenvolvimento do cérebro, portanto acho que atualmente posso ser considerado um neurocientista.
Você surfa. No que esse esporte ajuda nos seus insights?
Tem um aspecto terapêutico para mim. Um ambiente competitivo às vezes é muito tenso e você gasta muito intelectualmente, fica muito no computador. Aqui em San Diego é lindo, com o mar cheio de peixes, golfinhos passando e isso dá um reset no cérebro. Fazendo [surf] regularmente me mantenho mais equilibrado e meu dia é mais fácil.
E Ioga?
Vai na mesma direção. É que tem dias que não tem onda, aí vou fazer ioga (risos).
No Brasil, para qual time de futebol você torce?
Sou Palmeirense.
Ninguém é perfeito né?! (risos)
(Muitos risos) Mas eu não acompanho muito futebol.
Desde quando você mora nos EUA?
Vim pra cá em 2002, com uma bolsa de 2 anos. E na carreira de cientista, principalmente na fase inicial, não há certezas. Essa história dos transpósons atraiu muita curiosidade das universidades americanas e fui convidado para ficar mais tempo. Acabei me envolvendo mais e mais com a ciência. Apesar da falta dos amigos, familiares e do Brasil, sou um cientista e é aqui que eu consigo fazer ciência de impacto. Então decidi ficar.
Pretende voltar para o Brasil?
Não me vejo aqui para o resto da minha vida, talvez um dia eu volte. Mas agora estou no momento mais criativo da minha carreira e preciso do melhor ambiente possível.
Você tem alguma ligação pessoal com o autismo?
Eu só conheci pessoas com autismo aqui nos EUA. Eu sempre tive interesse no espectro autista e em como algumas pessoas tinham habilidades muito acima da média, em como o cérebro humano permitia esse tipo de variação
Você sempre trabalhou no meio acadêmico?
Sempre. Entrei na faculdade e não saí mais.
O que te motiva no seu trabalho?
Essa possibilidade de ajudar alguém. Essa minha decisão de ir para a ciência. Houve um momento em que eu estava em dúvida entre fazer Medicina ou Biologia. E a Biologia foi minha escolha, porque conseguiria atingir mais pessoas.
Você já recusou aí algum convite tentador?
Tive alguns convites interessantes. Nas duas costas [dos EUA] que mais me atraíam eu tive oportunidades de ir. Por exemplo Harvard em Boston e Columbia em Nova York. Visitei todas elas, gostei muito, mas nenhum desses lugares bateu San Diego, justamente por coincidir a ciência de alta qualidade com a qualidade de vida. Nenhum outro lugar do mundo tem isso.
Então você fez a conta: laboratório + golfinhos = qualidade de vida?
Exatamente (muitos risos).
Há outros dois profissionais brasileiros em sua equipe, a Carol Marchetto e o Cassiano Carromeu. O que você diz deles?
Ambos são profissionais excelentes. A Carol conheci ainda na USP e é uma grande companheira de trabalho e de vida e nos damos muito bem. E o Cassiano entrou num momento em que eu estava precisando de ajuda, veio do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, onde eu tinha terminado meu doutorado. Ambos são muito talentosos e sou grato por trabalhar ao lado deles.
Se alguém me perguntar “Quem é esse tal de Alysson Muotri”, o que eu respondo?
Boa pergunta essa (risos). Nem eu sei (risos). É um cara que está tentando ajudar algumas pessoas e que tem um interesse pela ciência e acha que esse é um caminho pelo qual conseguiria realizar esse sonho.